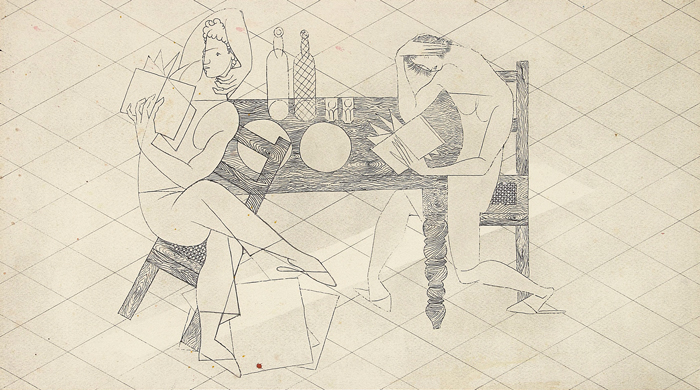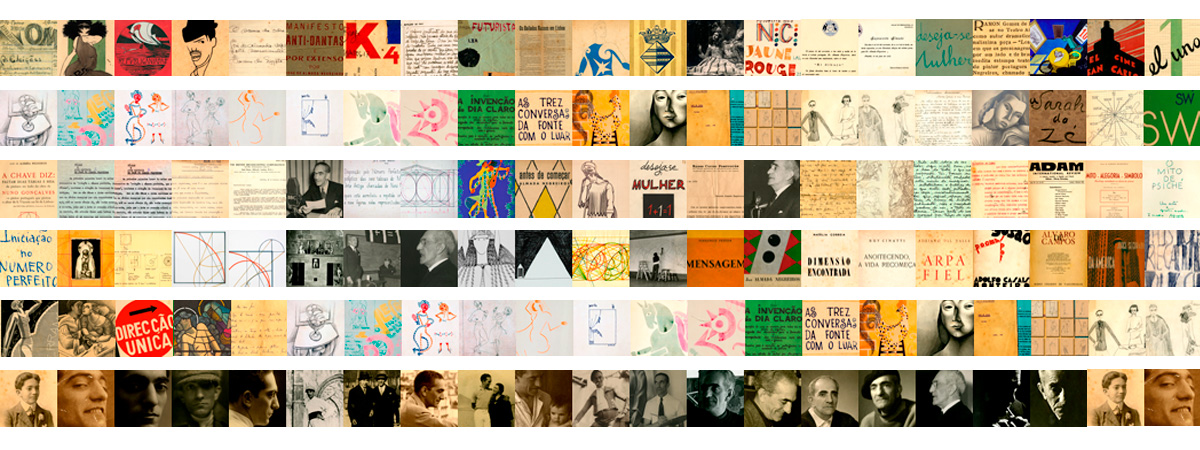Existem em Fernando Pessoa alguns modelos eufóricos de sujeitos unos e capazes. Por um lado, os vários detectives (como o Dr. Quaresma, o Chefe Guedes, o Tio Porco) das novelas policiárias, textos normalmente pouco estudados no corpus pessoano. Estes detectives, que aproveitam os modelos hipotextuais das personagens de Edgar Allan Poe e de Conan Doyle, além de possuírem dotes profundos para a lógica e a especulação, são sujeitos agentes que se reduzem a uma voz heurística. A estes heróis do puro pensamento, convém contrapor os heróis da pura acção. Encontramo-los especialmente em Mensagem (edição de Fernando Cabral Martins, Assírio & Alvim, 1997), como neste poema sobre o Conde D. Henrique: “«Que farei eu com esta espada?» / Ergueste-a, e fez-se.”. Neste modelo épico, a constituição do sujeito implica um corpo, mas reduzido a símbolo de uma vontade que transcende o próprio sujeito. Entre estes dois modelos, Alberto Caeiro, enquanto “mestre” idealizado pelos seus discípulos, constitui um compromisso possível: pensa, mas sem se perder numa dialéctica autotélica, e age, mas sem se inscrever numa história épica maior do que ele próprio. Combinando o melhor de dois modelos de sujeito, Caeiro (ou um certo mito de Caeiro, alimentado pelos seus hagiógrafos) pode ser o sujeito agente ideal – com a vantagem, aliás, de ser alegadamente objectivo. Isto é, num gesto anti-romântico (que é ainda um canto do cisne do romantismo), Caeiro seria um sujeito sem subjectividade.
Contudo, aquém destes modelos possíveis de sujeito uno, Pessoa é herdeiro e continuador de uma experiência romântica de fragmentação ou dissolução do sujeito, ora perdido na luta por ideais sublimes (políticos, filosóficos, amorosos…) que uma sociedade burguesa em vias de formação não consegue fundamentar completamente (lembrem-se os modelos de Fausto e Werther ou, entre nós, os heróis idealistas utópicos de Antero de Quental), ora já descrente de qualquer projecto, num ambiente finissecular (de que Camilo Pessanha será ícone, negando qualquer sujeito e mesmo qualquer esforço: “Adormecei. Não suspireis. Não respireis.”, sugere o último poema de Clepsidra (ed. de Barbara Spaggiari, Lello & Irmão, 1997)).
Assim, a própria heteronímia pessoana encontra-se teorizada, avant la lettre e de modo eufórico, num fragmento publicado na revista Athenaeum em 1798 e atribuído a Friedrich Schlegel: “situar-se arbitrariamente tanto nesta esfera como noutra, como ainda noutro mundo, e não só com o entendimento e a imaginação, mas com toda a alma; renunciar livremente tanto a esta parte do seu ser como a qualquer outra, para se limitar sem reserva a uma outra ainda (...): só pode fazê-lo um espírito que contém em si de algum modo uma pluralidade de espíritos e todo um sistema de pessoas, e dentro do qual cresceu e amadureceu o universo que deve, como se costuma dizer, existir como semente em cada mónada.” (cf. L’Absolu Littéraire. Théorie de la littérature de l’idéalisme allemand, org. de Philippe Lacoue-Labarthe e Jean-Luc Nancy, Paris, Seuil, 1978). Se este projecto pode descrever-se como heróico, pela defesa activa de um sujeito plural, capaz de “sentir tudo de todas as maneiras” (na expressão que Álvaro de Campos virá a usar), e pela recusa do entendimento do sujeito como uno (conforme quer a tradição filosófica cartesiana), a segunda metade do século XIX insistirá, pelo contrário, na incapacidade desse sujeito cindido para se conhecer e dominar.
Arthur Rimbaud afirma numa célebre carta de 1871 a Georges Izambard: “Quero ser poeta, e esforço-me por tornar-me vidente (...). Trata-se de chegar ao desconhecido pelo desregramento de todos os sentidos. (...) reconheci-me poeta. Não é culpa minha. É falso dizer: Eu penso. Dever-se-ia dizer: Sou pensado. Perdão pelo jogo de palavras. / Eu é um outro.” Esta perturbadora negação do cogito entra em consonância não só com o futuro desregramento sensorial de um Álvaro de Campos, mas também com a experiência, em textos do ortónimo, de uma despossessão de si, eventualmente em termos ocultistas ou mediúnicos. Nietzsche, na mesma senda, considera que “um pensamento surge quando «ele» quer, e não quando «eu» quero; de sorte que é uma falsificação dos factos pretender que o sujeito «eu» é condição do predicado «penso».” (cf. Para Além de Bem e Mal, 1886). Este surgimento involuntário do pensamento permite redescrever, por exemplo, o surgimento automático das diversas escritas heteronímicas (antes das próprias biografias dos heterónimos) a Pessoa, se seguirmos a carta a Adolfo Casais Monteiro de 13 de Janeiro de 1935 (ver Correspondência 1923-1935, ed. de Manuela Parreira da Silva, Assírio & Alvim, 1999).
Finalmente, e já na passagem para o século XX, Freud desenvolve o conceito de inconsciente e afirma que a razão não é senhora na sua própria casa; considera que todos os comportamentos do sujeito obedecem a leis exactas, mas salvaguarda que o conhecimento apenas pode alcançar sintomas do inconsciente, e nunca o próprio inconsciente em si, eternamente obscuro (cf., por exemplo, os artigos de 1915 destinados a constituírem o livro Metapsicologia). Mesmo este modelo positivista por excelência considera, em suma, a incapacidade de o sujeito se observar absolutamente. Em termos pessoanos, dir-se-ia um jogo entre o esforço plural de introspecção do ortónimo (cf. Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação, ed. de Jacinto do Prado Coelho e Georg Rudolf Lind, Ática, 1966, e Escritos Autobiográficos, Automáticos e de Reflexão Pessoal, ed. de Richard Zenith, Assírio & Alvim, 2003) e a consciência, em Campos, da indecifrabilidade última do mistério (cf. Livro de Versos, ed. de Teresa Rita Lopes, Estampa, 1993).
Na verdade, Pessoa não pode ter lido a carta de Rimbaud de 1871 (apenas publicada em França em 1926) antes da criação da heteronímia; não se cansa de criticar, em inúmeros textos que nunca publicou, os juízos de Nietzsche (mas existem evidentes proximidades entre estes dois autores, que Pessoa talvez quisesse precisamente denegar…); e sabe-se que reagiu, na carta a João Gaspar Simões de 11 de Dezembro de 1931, contra o freudismo (mas a própria “fúria” de Pessoa no fim da carta, afirma José Marinho em Pessoa e a Psicanálise (2001), confessaria uma perturbada aproximação às teorias de Freud). Por outro lado, muito próximo das várias experiências de multiplicação e descentramento do sujeito em Schlegel, Rimbaud, Nietzsche e Freud, Fernando Pessoa escreve, no XI soneto dos “Passos da Cruz” (conjunto publicado no número único de Centauro, 1916; cf. Ficções do Interlúdio, ed. de Fernando Cabral Martins, Assírio & Alvim, 1998): “Não sou eu quem descrevo. Eu sou a tela / E oculta mão colora alguém em mim.”, confessando a impossibilidade radical da unidade de um sujeito auto-consciente.
Negada a unidade, o sujeito é uma pluralidade de vozes, figuras, escritas. A carta de 1935 a Adolfo Casais Monteiro insiste no carácter involuntário (epifânico?) do surgimento dos heterónimos: “Parece que tudo se passou independentemente de mim.” Mas os próprios heterónimos consideram uma pluralidade interna, donde um efeito fractal infinito. Lembre-se, por exemplo, esta confissão de Bernardo Soares: “Cada um de nós é vários, é muitos, é uma prolixidade de si mesmos. Por isso aquele que despreza o ambiente não é o mesmo que dele se alegra ou padece. Na vasta colónia do nosso ser há gente de muitas espécies, pensando e sentindo diferentemente.” (cf. Livro do Desassossego. Composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa, ed. de Richard Zenith, Lisboa, Assírio & Alvim, 1998). Sujeito, assim, é apenas uma descrição instável de um acontecimento plural e não controlável nem simplesmente cognoscível. Já Ricardo Reis, embora sabendo que “Vivem em nós inúmeros” e que “Tenho mais almas que uma. / Há mais eus que eu mesmo.”, procura reaver um sentido de unidade pela imposição de uma voz acima das outras: “Existo todavia / Indiferente a todos. / Faço-os calar: eu falo.” (cf. Poesia, ed. de Manuela Parreira da Silva, Assírio & Alvim, 2000). Só na contida violência deste gesto estóico um sujeito moderno pode talvez construir ainda uma arriscada unidade.
Os autores da Geração de Orpheu podem enquadrar-se dentro destes limites: Mário de Sá-Carneiro glosa, na poesia e nas novelas, o tema do sujeito “intermédio”, nem lepidóptero (como Sá-Carneiro chama aos pequeno-burgueses de Lisboa, detractores de Orpheu e do(s) modernismo(s) em geral), nem artista (sujeito sublime, portanto inatingível). Esse impasse salda-se pela dolorosa auto-caricatura do sujeito: “O mago sem condão – o Esfinge gorda…”, lê-se em “Aquele Outro” (cf. Poemas Completos, ed. de Fernando Cabral Martins, Assírio & Alvim, 1996). Pelo contrário, e de forma excepcional nesta Geração, Almada Negreiros ensaia modelos de sujeito forte e interventivo na sua adesão ao futurismo (“Eu resolvo com a minha existencia o significado actual da palavra poeta com toda a intensidade do previlegio. / Eu tenho 22 anos fortes de saude e de inteligencia. / Eu sou o resultado consciente da minha propria experiencia”, lê-se no início do “Ultimatum futurista ás gerações portuguezas do Seculo XX”, publicado no número único de Portugal Futurista, em 1917 (cf. ed. fac-similada, Contexto, 1990)) e cria um sujeito sublime nos últimos capítulos do seu Bildungsroman, escrito em 1925 e publicado em 1938, Nome de Guerra (ed. de Fernando Cabral Martins, Luís Manuel Gaspar e Mariana Pinto dos Santos, Assírio & Alvim, 2001): qual super-homem nietzschiano, Antunes, o protagonista deste romance “toma o partido das estrelas”, recusando toda e qualquer influência de um mundo pequeno-burguês de que provém, e criando doravante os seus próprios valores morais.
Em Pessoa, os mesmos dilemas são vividos, com soluções e irresoluções alternadas, pelo mesmo Álvaro de Campos, sujeito dilacerado e incapaz de síntese (nem sequer pela assunção da sua própria condição dilacerada). Basta lembrar o célebre incipit de “Tabacaria”: “Não sou nada. / Nunca serei nada. / Não posso querer ser nada. / Àparte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.” (cf. Livro de Versos, ed. de Teresa Rita Lopes, Estampa, 1993). Também Bernardo Soares escreve: “Alhures, sem dúvida, é que os poentes são. Mas até deste quarto andar sobre a cidade se pode pensar no infinito.” (Livro do Desassossego, ed. de Richard Zenith, Lisboa, Assírio & Alvim, 1998). Campos, Soares e a personagem dos poemas de Sá-Carneiro nunca serão o Antunes do fim de Nome de Guerra, mesmo se todos vivem a ânsia de uma sublimação de si próprios como sujeitos. O desespero das suas obras (não menos extremo quando transfigurado pele devaneio ou pela caricatura) não se deve apenas à consciência da impossibilidade de sublime (o quotidiano banal de Soares, o spleen tardio de Campos, a lacaniana incapacidade de gozar de Sá-Carneiro) nem somente à consciência da possibilidade de sublime (o infinito de Soares, os sonhos de Campos, o Outro para Sá-Carneiro): deve-se, sim, à tensão irresolúvel entre possibilidade a impossibilidade.
O ortónimo (mas sob este singular agrupa-se uma muito problemática pluralidade de textos) vive, de certo modo muito próprio, essa mesma tensão. Por um lado, anima-o uma infinita vontade de (se auto-)conhecer. Como Caeiro procura ser sujeito de um conhecimento objectivo, e Soares “Ver o polícia como Deus o vê” (Livro do Desassossego), Pessoa multiplica esboços autobiográficos e procura descrever a sua própria subjectividade a partir de uma rede complexa de sensações intelectualizadas; este percurso conduz à teorização do Sensacionismo, ao mesmo tempo grande conceito com que Pessoa pode estrategicamente unificar várias experiências estéticas de vanguarda (e a escrita dos próprios heterónimos), operação psicológica de auto-observação, e indagação ontológica que eventualmente reduz o mundo a sensações de um sujeito isolado (tal seria já a parábola solipsista do Marinheiro, no drama estático com esse nome; ou a descrição do “Cubo da Sensação”, quase numa epoché fenomenológica, nas Páginas Íntimas…). Assim, tanto a teoria como o poema sensacionista (seja ele de Caeiro, de Campos, de “Chuva Oblíqua”…), enquanto lugares da estética, são lugares de auto-indagação: romanticamente, a arte serve a constituição de um sujeito; ou então, o sujeito é aquele que se define (se cria) através da arte. O sensacionismo demonstra a impossibilidade de separar radicalmente em Pessoa textos sobre psicologia e textos sobre estética: o poema é o lugar de autoindagação do sujeito.
Por outro lado, o mesmo sujeito ortónimo reconhece a impossibilidade absoluta do saber. O poema dramático Fausto,incompleto, leva ao extremo a ânsia do conhecimento e, se acaso há uma rara revelação, o horror e a recusa do mesmo conhecimento. Tendo finalmente visto o Universo, Fausto exclama apenas: “Infinito interior ao interior! / Pavorosa agonia do Profundo! / Vacuidade e realidade negra / De tudo!” (ed. de Teresa Sobral Cunha, Presença, 1988). O próprio Campos, como um Fausto que se recusasse a sê-lo, corta cerce: “Tudo menos saber o que é o Mysterio! / Superficie do Universo, ó Palpebras Descidas, / Não vos ergaes nunca! / O olhar da Verdade Final não deve poder supportar-se!”.
Finalmente, do mesmo modo que o sujeito descobre a impossibilidade de se conhecer, descobre a impossibilidade de se dar a conhecer. Pessoa, na década de ’10, ainda considera que “A única realidade em arte é a consciência da sensação”, e que “as nossas sensações devem ser de tal modo expressas que criem um objecto que seja para os outros uma sensação” (tradução de uma carta em inglês a um editor, cf. Correspondência 1905-1922, ed. de Manuela Parreira da Silva, Assírio & Alvim, 1999). Estas afirmações, que anunciam já de algum modo a teoria do correlativo objectivo de T. S. Eliot, pressupõem a comunicabilidade do sujeito, ainda que sujeito plural e assumidamente contraditório. Duas décadas depois, não só essa pluralidade se acentua (“O poeta é um fingidor.”), mas a comunicação perde-se, deixando o sujeito irresgatavelmente indecifrável: “E os que lêem o que escreve, / Na dor lida sentem bem, / Não as duas que ele teve, / Mas só a que eles não têm.” (Ficções do Interlúdio, ed. de Fernando Cabral Martins, Assírio & Alvim, 1998).
Pedro Eiras